“Mas você já escreveu um post pra sua mãe, Tito!”
Eu sei, mas o blog é meu, e eu faço o que eu quiser. Então lê aí.
Resolvi escrever esse texto porque acabei de ler um texto dela, falando de algo tão comum, e tão triste, de forma tão bonita, mas tão bonita, que to chorando há vários minutos. Nesse processo, muitas coisas me ocorreram, e senti que era importante pra ela saber tudo isso, e colocando aqui, conto com a ajuda de vocês pra incentivá-la também.
Minha mãe sempre foi uma contadora de histórias. De minhas memórias mais antigas, bem pequeno, tenho várias dela lendo histórias de livros pra Lila e pra mim. Contando histórias de cabeça quando a gente viajava, inventando jogos com histórias, inventando histórias, fazendo companhia nas situações mais bizarras (lembro de estar sentado no banheiro, passando mal e vomitando pra cacete, e desesperado com isso, enquanto minha mãe tava ali do lado, pra ajudar no que fosse possível, e contando histórias novas pra me acalmar e distrair – e isso não foi só uma vez. Foram algumas).
Depois de uns anos, juntou com amigas e formaram um grupo, de contação de histórias. Lembro muito disso também, de ver as apresentações mil vezes, ver os ensaios, ouvir minha mãe preparando as histórias enquanto a gente ia pra escola, pedir opinião em alguns pedaços, perguntar o que a gente tinha achado, o que a gente achava que o público tinha achado, o que podia melhorar, que histórias eram mais legais que outras, e por aí vai.
Vira e mexe, quando ela lia algo muito incrível, ou nossas discussões muito loucas chegavam num ponto aleatório, ela lembrava de algo de psicologia (sempre Jung), e pegava o livro, e lia um trecho, que a princípio parecia imcompreensível para mim – um menino entre 13 e 25 anos – mas que depois de mais alguns minutos começava a fazer sentido.
E minha mãe sempre gostava de escrever. No começo tinha um blog. Quarto com Baú, um design rosa, e alguns posts, cada vez mais espaçados. Acho que durou menos de um ano. Parou. Começava a escrever histórias, via coincidências na vida e na história, amarrava as duas coisas, lia pra gente, pedia opinião. Com minha mãe não tem texto “mais ou menos”. E nessa onda de escrever, gostava de alugar os ouvidos de quem estivesse em casa. Às vezes era meu pai, às vezes era Lila, às vezes era eu. De vez em quando, ninguém queria muito ouvir, e só falava que tava bom, ou ótimo, nunca muitas sugestões. Eu sempre considerava isso uma daquelas “obrigações de família”, tipo almoço de domingo, que tem que ter todo mundo em casa, ou “ir todo mundo junto para o aniversário de fulano, e ficar pelo menos X horas na festa”, mesmo sem ninguém conhecido por perto. Enfim, essas coisas que a gente faz porque não tem opção.
Aí o tempo foi passando e não sei quando o quadro mudou. O ponto é que agora eu já morava em São Paulo, e tava muito menos tempo perto de minha mãe pra ter ouvidos alugados. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Alugava os olhos agora, mandava por email, e pedia opiniões. Eu nunca tinha muito o que falar, pra mim, se um texto cumpre o que ele promete no começo, a chance de eu achar bom é grande. Mas dona Fátima não é assim (e devo muito a ela por isso). A coisa era mais interessante quando eu não entendia absolutamente nada do que tava escrito. As idéias não encaixavam, ou eu não entendia o que ela queria dizer. Aí eu escrevia de volta, falando que não entendi, e chutava um monte de coisa, se tava interpretando pelo caminho certo. Falava o que tinha gostado, o que não tinha.
A coisa ficou louca mesmo acho que no último ano de faculdade, quando ela também já tava fazendo um curso de pós-graduação, e tendo que entregar trabalhinhos escritos. Nesse mesmo ano eu tava escrevendo minhas colunas pra OLD (essas Ultrapassagens que aparecem aqui de vez em quando). E assim como ela sempre me alugou pra revisar textos, sempre que pedi a opinião dela em qualquer coisa escrita, o resultado ficava anos luz à frente do que tinha sido o ponto de partida. O NOME Ultrapassagem foi resultado de uma discussão nossa por email!
Enfim, sempre que eu mandava uma versão de coluna pra ela, rolava um grande vai-e-volta com alterações de um lado e de outro, até chegarmos num resultado que os dois achassem que estava bom. E aqui estamos falando de revisões que duravam HORAS pelo skype, com muitos emails e google docs compartilhados. Quando eu escrevia uma coluna muito em cima da hora e não dava tempo de passar por revisão, tenho CERTEZA que minha mãe lia na revista, mas nunca comentou nada que poderia ser diferente em nenhuma delas. Nunca agradeci por isso. Sempre soube que elas poderiam ser melhores, assim como me sentia mal de ter escrito em cima da hora. E, óbvio, não ia ajudar em nada se ela virasse pra mim e falasse “poxa, meu filho, esse texto tá pobrinho hein?” ou “podia ser melhor!”.
Ah, importante mencionar, as colunas sempre tratavam de temas técnicos muito loucos de fotografia. Loucos mesmo. Ao ponto de serem coisas desconhecidas para muitos fotógrafos. Então porque diabos eu escolhi minha mãe pra me ajudar nesse processo? Motivo principal: porque se estivesse escrito de um jeito que ela conseguisse entender, qualquer pessoa conseguiria. Motivos secundários: porque minha mãe escreve muito bem, e do mesmo jeito que eu brinco e faço coisas que muita gente chama de arte com uma câmera e computadores, minha mãe faz isso com palavras.
Estando longe de casa, ler os textos de minha mãe era uma forma de me sentir mais perto dela, mais perto de casa (e ao mesmo tempo, aprender umas coisas psicológisticas e entrar em viagens muito loucas de lembranças reinterpretadas em forma de texto), então aquilo que antes era uma obrigação de família, virava um passatempo e daqueles mais interessantes, que você não faz de qualquer jeito, pra acabar logo, que nem palavras cruzadas. Era um daqueles jogos onde você quer achar todas as respostas e segredos. E aí, todos os anos de convivência me ensinaram uma coisa: minha mãe não tem apego pela FORMA que as coisas estão escritas. O importante é passar a mensagem, é ser entendido. O texto não é pra ela, é pro leitor. Então, sei que ela não vai ficar magoada se eu disser que não gostei de um texto, ou sugerir trocentas alterações, e até dar uma podada no estilo “Fátima” de escrever. Ela não simplesmente “escreve”, ela brinca com as palavras, vai colocando uma junto da outra, brinca com os significados, brinca com as grafias, com a ordem das letras, com o som, é uma coisa diferente, que nunca vi escrito em nenhum outro lugar. E é FODA.
Agora que todo mundo viajou (Lila tá em São Paulo, eu to em Vancouver, meu pai tá em Natal) e infelizmente os gatos não tem muita opinião sobre os textos. Na vontade de continuar tendo feedback e opiniões, e continuar escrevendo, ela criou um blog e tava escrevendo direto. Não sei se é porque a coisa tava meio em baixa, mas já tem duas semanas que ela não publica nada. Cada um dos posts lá é muito foda, e fala de temas assustadores como cabelos brancos, envelhecer, essas coisas que a gente é socialmente ensinado a temer. É como ver um pedacinho do mundo pelos olhos dela – e é um olhar tão mágico que dá vontade de ficar lendo mais e mais. Por isso, meu apelo: Mãe, não pare de escrever, não pare de contar histórias!
Muito do que vejo, leio, penso e interpreto, devo a você, que me ensinou que o óbvio e o normal devem ser evitados sempre que possível, mas não pra ser do contra, e sim porque existe um jeito mais bonito e humano de se fazer as coisas e ver a vida. Me ensinou também que o caminho mais simples pode ser o mais rápido, mas quase nunca rende boas histórias – e haja histórias contadas nesse blog porque, sempre que posso, evito o jeito comum de se fazer as coisas. E eu ainda lembro das histórias que você contava quando eu era pequeno, claro, e mais: aposto que quase todo mundo que já as ouviu ainda lembra.
Ah, vou ficar devendo pra vocês a história de quando a gente achou um passarinho machucado e levou prum centro do IBAMA, de madrugada. Quem sabe ela mesma não resolve contar essa história, do jeito dela, e eu conto depois como era minha perspectiva?




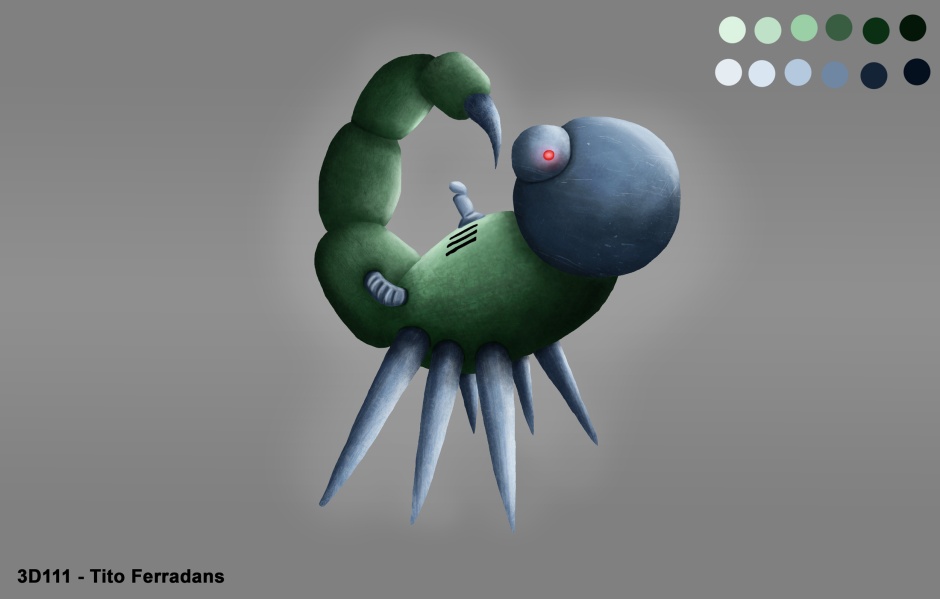







You must be logged in to post a comment.